#10 D.C.
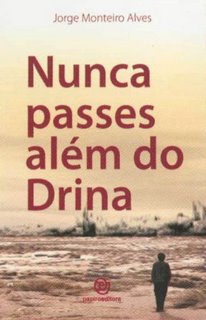
Jorge Monteiro Alves, amigo e camarada, estreia-se, no próximo domingo, nas lides literárias, com "Nunca passes além do Drina".
A sessão de lançamento está marcada para as 17 horas, na FNAC do Norte Shopping, em Matosinhos.
Não li ainda o romance, mas tenho a garantia de uma prosa escorreita e de elevada qualidade, em bom Português. O editor da secção Mundo do "Jornal de Notícias, Elmano Madaíl, que assina o prefácio, explica-o bem:
"Nunca passes além do Drina". Num efeito linguístico que os manuais de retórica chamariam de "preterição", a titulagem do romance de Jorge Monteiro Alves formula um incentivo e esconde certo cinismo, ou desencantamento, reconhecível depois no singular personagem que o autor convida a acompanhar. Com efeito, o alerta remete para a vertiginosa errância de Carlos, vendedor de botas cardadas, oriundo do Porto, pelos múltiplos destinos situados para lá desse rio – que constitui, há séculos, a fronteira natural entre impérios e nações –, onde se desenrolam alguns dos mais sangrentos conflitos que marcaram a última década do segundo milénio, designadamente Timor-Leste, Bósnia e Kosovo.
O cinismo não se esgota no título, porém, nem no espírito assaz amargo de Carlos; antes percorre todo o texto até se subjugar, finalmente, ao derradeiro arbítrio do leitor, instado a decidir a conclusão que melhor satisfaz a sua sensibilidade e, nesse lance, a resolver a proposta filosófica da obra que o discurso aparentemente unívoco dissimula. Porque se é verdade que a matriz, de múltiplas entradas, constitutiva do romance sugere uma contemporaneidade radical – em que tanto o momento da publicação, como a proximidade dos acontecimentos narrados, serão os menos relevantes – a sua resolução comporta duas possibilidades: a primeira, porque iminente, sugere a superação da Modernidade; a segunda, a proclamação dela. Qualquer das opções implica riscos, porque será sempre o reflexo do íntimo do próprio leitor.
A favor da primeira opera o romance quase todo. Por um lado, o catalisador das viagens de Carlos, arquétipo do anti-herói fadado para a desventura, como se fosse o negativo de um novo Hércules, é a expectativa do lucro. Nada mais interessa ao personagem que percorre, indiferente, os espaços de múltiplas tragédias cujos fundamentos e resultados ignora, mas que também não pretende conhecer. O vendedor de botas cardadas cumpre a itinerância do horror que as guerras, todas as guerras, comportam com o objectivo último de alcançar a fortuna que trará, julga ele, a notoriedade social e a frequência dos espaços ocupados pelas elites do Porto.
Ora, esse desejo vão de ingressar no Olimpo da frivolidade traduz, em larga medida, o espírito dos tempos, este Mundo globalizado que a conjugação da finança com o complexo informacional instituiu como o único legítimo. Nesse sentido, o vendedor de botas é o paradigma do homem-light – que habita entre e em nós –, ocupado na conquista do objectivo supremo da contemporaneidade: a sua visibilidade, que será também a sua redenção – porque nada existe para lá da imagem - nem que, para tanto, tenha que descer aos domínios do Hades.
E, num mundo habitado pelas imagens que se querem mais cintilantes e cristalinas, o Inferno será, com toda a propriedade, a dimensão mais obscura, não-visível, da realidade suja de uma guerra – seja a contenda fratricida nos Balcãs que a Europa não conseguiu impedir e os EUA tardaram em conter, seja a busca por autonomia de uma nação subjugada pela geopolítica da Guerra Fria no Extremo Oriente e a impotência de Portugal.
Por outro lado, essa demanda que lhe permitirá adquirir uma imagem socialmente aceitável é quase desprovida de metafísica, o que justifica na perfeição o despojamento e a velocidade alucinante da sólida prosa de Jorge Monteiro Alves. No mundo de Carlos – que é o nosso, afinal –, embora sujeito ao confronto de experiências no limiar da bestialidade, não há lugar para interrogações morais nem para o escrutínio das emoções. O amor, aliás, não existe senão na sua expressão mais “carnívora” – como o envolvimento fugaz no mar de Timor, ou a lasciva morena que lhe aplaca os ardores no Panamá – porque o universo de Carlos é eminentemente sensorial. De resto, as próprias personagens com que vai interagindo são unidimensionais, de uma transparência sem espessura. Se porventura chorarem, as lágrimas que vertem serão desprovidas de qualquer esperança num amanhã melhor.
Essa ausência de crédito no futuro que perpassa quase toda a obra – as guerras a que assiste parecem não objectivar nada mais para lá da expressão do mal – encerra, ainda e também, a recusa aparente do programa da Modernidade. Aparência que o epílogo, todavia, estilhaça e questiona no mesmo instante em que interpela o leitor. Porque se até ali Carlos foi sujeito amoral, indiferente à sorte dos semelhantes que as suas botas cardadas ajudam a esmagar nos campos de batalha ou nas aldeias recônditas sujeitas à prepotência cruel dos poderosos, o martírio de crianças kosovares desperta, na sua consciência narcotizada pelo êxito mercantil, fragmentos da memória.
A inocência brutalizada que testemunha funciona, para Carlos, como a referência que finalmente o resgata daquele eterno presente em que consome os dias. A noção de um passado leva-o a situar-se na sua diletância pelo caos. É só então que se revela a humanidade, até ali insuspeita (embora aflorada no fastio que o hedonismo do Panamá lhe proporciona) do negociante através das suas angústias e incertezas. Chega, até, a reflectir sobre a família – que nunca visitava e nele via apenas fonte de rendimento – enquanto âncora da sua sanidade e, quiçá, promessa de serena felicidade. O destino, porém, não é fornecido pelo livro. Obra aberta, o desfecho radica no imaginário de quem a descodifica e lhe atribui, assim, um sentido: dionisíaco, se porventura Carlos tornar à vivência dissoluta no Panamá; apolíneo, se regressar ao Porto e, eventualmente, ao seio familiar.
Esta liberdade criativa que Jorge Monteiro Alves acaba por atribuir ao leitor será, porventura, a maior subtileza de todo o romance. Porque o seu autor, embora tenha, ao galgar o Drina, rasgado também a frágil fronteira entre jornalismo e literatura, não abdica, neste romance debutante, de lhe imprimir um registo narrativo que privilegia o factual sobre o passional. Dessa opção, coerente em alguém que dignificou, durante duas décadas, o género da reportagem em zonas de conflito aberto, não decorre qualquer prejuízo, bem pelo contrário.
Porque, por um lado, permitiu ao autor uma nova travessia do Drina sem as amarras do mester jornalístico, cujas convenções e constrangimentos não permitem ao repórter revelar senão parcialmente o visto e o vivido. Ao verter para livro as notas de reportagem que sempre sobejam nas algibeiras e no íntimo do jornalista, a reconstituição dos lugares que pontuam a digressão de Carlos ganha uma plasticidade hiper-realista impossível de alcançar nas restrições produtivas de um diário. Aliás, aqueles que tiveram oportunidade de palmilhar tais paragens não deixarão de reconhecer, imediatamente, a beleza arruinada dos timorenses e a exuberância kitsch das gentes balcânicas nos personagens que Jorge Monteiro Alves (re)cria.
Ainda neste contexto, o profissionalismo que o romancista sempre cultivou, por vezes com rigor castrense, no Jornal de Notícias, reflecte-se também no cuidado em contextualizar cada conflito abordado. E aqui destaca-se a História da trágica desintegração da Jugoslávia que deixou tantos órfãos de pátria, entre os quais o general Milanovic, amigo íntimo do próprio Tito. O amargurado velho elucida o ignaro Carlos, numa conversa de esplanada, da honra e glória que assistiram ao Estado pária dentro do Império Soviético.
Não menos importantes serão os apontamentos etnográficos. E se a negociação tradicional para o noivado timorense, plena de rigor e de humor, alcança elevada expressão, a dissecação do personagem compósito Carlos revela também, na sua vivência e aspirações, um certo modelo de empresário que, infelizmente, vicejou e ainda vigora nos vales do Ave e do Sousa.
Por outro lado, nesse exercício de liberdade, Jorge Monteiro Alves proporcionou a todos quantos lhe foram seguindo o percurso jornalístico um reencontro com o óptimo Português, sem adjectivações impossíveis nem retóricas desprovidas de significado, com que sempre honrou as páginas do Jornal de Notícias. Nesta era submersa por mensagens truncadas e expressões monossilábicas, tal respeito pela integridade da Língua Pátria constitui quase que revolucionário gesto.
Finalmente, por todos os motivos entretanto assinalados neste já demasiado longo intróito, deseja-se que o romance que ora se apresenta não seja filho único, mas antes o primogénito de vasta prole. Aguardamos por novo parto.


0 Comentários:
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial